sábado, 9 de maio de 2015
O encantamento de um cinéfilo com a audiodescrição
Um mundo sem imagem, mas não sem poesia! Estou sentado, sozinho, na sala escura. Uma voz de homem, muito calma, fala em meu ouvido: “Fundo preto, letras
brancas, sobem os créditos”. Uma hora e meia mais tarde, a voz do homem, calma, mas com um tom levemente embargado, diz: "A cova de May está rodeada de
pessoas do álbum de fotografias".
Entre essas duas falas simples e cristalinas, eu acabara de assistir – sem o vislumbre de uma imagem sequer – a um dos filmes mais bonitos da minha vida.
Assistir? Bonito? Melhor começar do começo...
Prólogo
Tudo começa com uma incompetência crônica, mistura bem dosada de procrastinação e resistência às formas consagradas de organização pessoal. Entre os efeitos
deste fenômeno pouco original estão emails não lidos, encontros remarcados, senhas esquecidas, projetos abortados, contratos que ninguém sabe, ninguém
viu. E, para ficar no que importa aqui: filmes. Dezenas de filmes que entram e saem de cartaz e permanecem inéditos pra mim.
Como não sou adepto do cinema em casa, todo ano conto com o Festival Sesc Melhores Filmes para me lançar de corpo e alma em busca do tempo - e do filme
- perdido.
Meu analista diria que o festival é uma bengala que permite dissipar o sintoma sem enfrentar o problema de fato. Verdade. Por isso, não vou mais ao analista.
Cena 1
Este ano, com meu próprio festival, o IN-EDIT, adiado para julho, aproveitei para me dedicar à evasão com maior afinco. Estudei minuciosamente os 52 itens
do catálogo. Eliminei a pequena parcela de filmes já vistos e elegi os 15 títulos que não poderia perder. Ao cabo de quatro semanas de entra e sai da sala
escura, contabilizei 12 sessões completas e nenhuma interrompida. Pouco? Considerando minha idade, mulher, filhos, celular e o surto da dengue na cidade,
acho que me saí muito bem.
Turning point
Mas me estendo em informações que não vêm ao plot... A quantidade de frames afinal transferida para o meu HD (infelizmente, de pouca memória) não integra
o núcleo central deste relato. Para mim, o ponto alto deste festival, o melhor do Melhores, foi ter assistido (assistido?) ao filme "Uma Vida Comum" de
olhos vendados, ligado no desenrolar da trama graças ao serviço de audiodescrição que o Sesc oferece aos portadores de deficiência visual.
Se você não conhece o serviço, já explico: No hall do cinema, espectadores com deficiência visual ou baixa visão têm à disposição um pequeno aparelho transmissor,
parecido com um antigo radinho de pilha. O sujeito pega seu aparelho, se acomoda na poltrona e ajeita o fone de ouvido. Assim que o filme tem início, a
voz calma e cristalina de um ator-narrador começa a descrever a situação geral, o cenário e a ação dos personagens em cena. No caso de filmes estrangeiros,
um segundo ator se ocupa de traduzir os diálogos, assumindo a função das legendas que nos habituamos a ler.
Foi assim que assisti ou, para ser mais exato, que ouvi e me emocionei com a trajetória de John May, o protagonista da delicada obra do diretor Uberto
Passolini.
Flashback
Antes de avançar filme adentro, peço a palavra (e a paciência dos mais jovens) para uma breve digressão. Há 20, 30 anos, o que hoje chamamos de políticas
inclusivas não era corriqueiro. Pessoas com algum tipo de deficiência não frequentavam ambientes e atividades destinados aos seres “normais”. Pintores
cegos? Atores afásicos? Atletas com poliomielite? Fenômenos assim eram raros e, confesso, me causavam um certo incômodo. Não era preconceito. Eu apenas
não conseguia conceber que, por exemplo, um paraplégico pudesse ser genuinamente feliz se dedicando ao basquete – cavando sentido em sua própria fraqueza.
Parecia um equívoco, da mesma forma que um cego que adentrasse uma sala de cinema em busca de diversão tampouco contaria com o meu beneplácito - uso essa
expressão antiga para indicar que esse sentimento tortuoso já não mora mais em mim.
Cena 2
Fim da digressão. Já estou na sala, de aparelho ligado e olhos vendados. Concentro-me para limpar a mente e relaxar. Tudo o que eu queria era assistir
- ou ouvir - o filme da maneira mais espontânea possível, sem ficar me analisando a cada minuto, como o objeto de um experimento em curso. Queria me envolver
com a história e só. E acho que consegui. Assim que o homem de voz calma proferiu suas palavras inaugurais - “fundo preto, letras brancas, sobem os créditos
- senti o frisson da criança que se deixa levar pelas mãos do ilusionista.
Sem preparação ou esforço, as imagens iam brotando da escuridão. E flutuavam ligeiras sobre a fala do ator-narrador para no instante seguinte dar lugar
a outra imagem: “Um amplo terreno de relva verde...” E lá estava, nítido, à minha frente, um vasto campo gramado, em ligeiro aclive. “... cravado de lápides
brancas em toda a extensão...” De imediato, pequenas lápides de contorno arredondado, com cruzes vazadas na superfície, surgiam sobre o terreno, agora
um pouco mais plano que ainda há pouco.
Durante 10 minutos, enfeitiçado pela voz do narrador, eu assisti a um filme pleno de imagens e cores – captadas sempre em plano geral, ponto de vista subjetivo,
sem nenhuma nitidez para o rosto ou a expressão dos personagens. Eu disse 10 minutos, mas talvez nem isso. Tão súbito quanto se fez, o encanto se desfez.
Ou melhor, se refez. Agora, à voz do ator-prestidigitador, as imagens iam se dissipando, uma a uma, na escuridão. Em poucos segundos, não restava mais
nada a não ser a voz do narrador. As palavras do narrador. Palavras que se tornaram absolutas, intransitivas. E o filme, os personagens, a própria sala
passaram a pertencer a um novo cosmo, onde tudo era som – voz, fala, música, ruído. Tudo som e sentido. Um universo do qual agora eu também fazia parte.
E assim, a história do agente funerário dedicado a aprumar a morte (e resgatar algum sentido à existência) de defuntos solitários caminhou tranquila e
envolvente até seu ponto final: “A cova de May está rodeada de pessoas do álbum de fotografias”.
Eu já não tinha a menor necessidade de projetar uma imagem para o personagem John May. Para sua cova. Para as pessoas do álbum de fotografias – altas,
magras, negras ou fantasmagóricas, o que importava? A mágica agora era essa: o som bastava. E qualquer coisa que não fosse a voz calma do homem, ou a música
que vinha da tela, se tornara supérfluo para mim.
A sessão terminou e eu hesitava em tirar a venda dos olhos. Eu tinha vivido uma experiência deliciosa, que transcendia o grande prazer de assistir a um
grande filme, e queria prolongar esse encantamento por mais alguns instantes...
Final
Mas o que tinha me tocado tanto, afinal? Não sei. Muitas coisas, provavelmente. O filme em si, a solidão dos personagens, seus pequenos gozos, a vida,
a morte. Mas também a experiência vivida, a entrega lúdica, nossa capacidade para cruzar fronteiras, criar papéis, borrar certezas, transcender.
Cadeirantes medalhistas? Cinéfilos cegos? Acho que, em parte, era esse o motivo do meu entusiasmo! Minha alegria, agora, era viver (e me ver) em um mundo
matizado, feito de plasticidade e potência, em que as realidades se inventam como poemas e os sentidos se revelam em todo lugar, até mesmo na morte. O
próprio May – seu caminho, seu destino – era um exemplo disso. Ou será que devaneio?
Talvez. Mas, como dizia meu analista, toda experiência vale por si e prescinde de aparato explicativo. Concordo. E paro por aqui, que já me estendi demais.
Na próxima edição do Festival Sesc Melhores Filmes, volto à carga – ou melhor, à sala do CineSesc – pronto para novas sessões e uma nova experiência: agora,
quero assistir uma projeção usando os recursos de legendas open caption.
Ah, como é bom perder filmes o ano inteiro...
*Leonardo Kehdi, 48, é produtor do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, cuja 7ª edição estreia no CineSesc em 1º de julho de
2015.
Fonte: SESC - Festival Melhores Filmes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
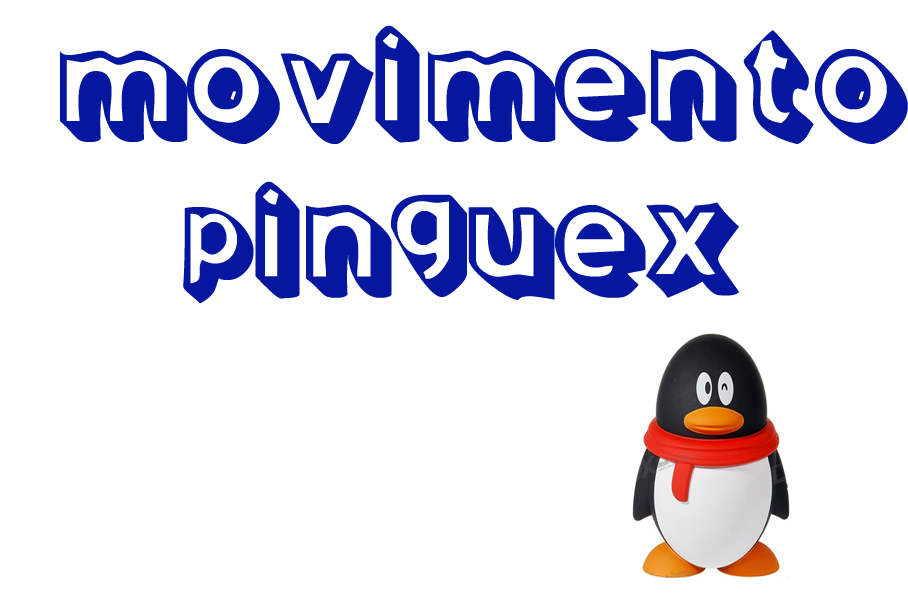
Nenhum comentário:
Postar um comentário